João
de Melo nasceu nos Açores, em 1949. Aos 11 anos, deixa a
sua ilha natal para prosseguir os estudos no continente,
como aluno interno do Seminário dos Dominicanos, onde
permanece entre 1960 e 1967. Abandonado o seminário,
passa a viver em Lisboa, prosseguindo os estudos
enquanto trabalha e iniciando colaborações na imprensa
escrita. É, aliás, num jornal, o Diário Popular, que
publica o seu primeiro conto, aos 18 anos. A partir de
então publicará contos, crítica literária e poemas em
diversos periódicos de Lisboa e dos Açores,
integrando-se na geração literária que, sediada em Angra
do Heroísmo - e ligada ao suplemento literário do jornal
A União - renovou a literatura açoriana contemporânea.
A incorporação no exército, com o posto de furriel e a
especialidade de enfermeiro, em 1970, e a posterior ida
para Angola, onde permaneceu 27 meses numa zona de
guerra [Companhia de Artilharia 3449 / Batalhão de
Artilharia 3859], marcá-lo-ão em termos pessoais e literários,
sendo tema de vários livros seus, de que se destaca, na
ficção, Autópsia de Um Mar de Ruínas, romance que é uma
referência na literatura portuguesa sobre a guerra
colonial.
Já após a revolução de Abril de 1974, João de Melo
licencia-se em Filologia Românica pela Faculdade de
Letras de Lisboa, mantendo sempre colaboração em
diversas revistas literárias (Colóquio-Letras, Vértice
e, mais tarde, Sílex, Ler, etc.). No início da década de
80, torna-se professor do ensino secundário, actividade
em que reparte até hoje o seu tempo com a escrita
literária.
O livro
"Os
Anos da Guerra 1961 / 1974"
(Volumes I e II)
Imagem da capa e restantes
elementos cedidos por Ilídio
Costa
Para visualização dos
conteúdos clique nos sublinhados que se seguem:
I Volume:
Os Anos da Guerra 1961 / 1974
II Volume:
Os Anos da Guerra 1961 / 1974
----------------------------
Os Anos da Guerra 1961 / 1974
( I Volume)
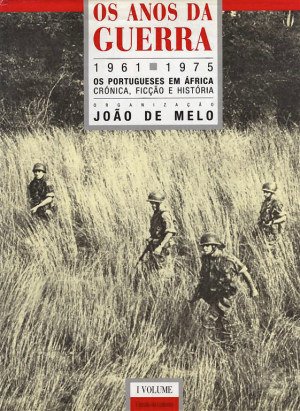 in: "Os Anos da Guerra
1961/1974 - 1.º Volume"
in: "Os Anos da Guerra
1961/1974 - 1.º Volume"
"...
«A carne deve estar tostada»,
disse o alferes, à sombra de um arbusto da altura de um
homem.
O prisioneiro sentiu a corda
frouxa e deslizou, cabeça baixa, para o chão. Os ombros
tremeram imperceptivelmente uma vez, outra, e só então
um suspiro baixo lhe saiu do peito, que subiu e desceu
com suavidade. O corvo deu um grito e elevou-se batendo
muito as asas. No bico duro, levava uma fiada de tripas.
O cabo olhou-o, com uma mão a fazer de pala. Depois
soltou a corda e, sempre com a mão a resguardar a vista,
avanço uns passos. Luminoso, num festival de tons
alaranjados, o sol abateu-se novamente pela terra.
«Não quero mais tiros», disse
o alferes com uma bolacha entre os dentes. Uma talhada
de sol batia-lhe no peito branco onde dançava um amuleto
humano.
O cabo não ficou surpreendido,
tão pouco agastado. Baixou-se e apanhou a ponta da
corda. Deu-lhe um esticão e o prisioneiro tombou,
desamparado. Os homens riram com força, entre goladas de
cerveja.
O cabo disse:
«Okay, meu alferes.» E depois,
espreitando pelo rabo do olho o fumo do braseiro, as
estruturas das casas chamuscadas: «Nunca gostei de
corvos. São pretos e feios. Quando era pequeno...»
O oficial interrompeu-o e
perguntou:
«Já montaram a guarda?»
E o cabo
«Não há problema. Fui eu mesmo
que distribui os homens.»
O outro fez «está bem» com a
cabeça e meteu mais uma bolacha, ouviu-se o craque dos
dentes, várias vezes, depois, sacou de um cigarro e
estendeu o maço ao cabo que, surpreendido, tirou um e
pôs-se a olhar as botas do oficial, impecavelmente
limpas.
«Que há?», perguntou o
alferes, em tom mordaz.
O cabo ficou muito perturbado
a olhar para as suas botas sujas e com restos de sangue
nas biqueiras, quase junto às solas. Deu um puxão
enérgico à corda e o prisioneiro voltou a cair, agora
para a frente, ficando com a testa poisada sobre a erva
rala. A ferida do pescoço refulgia no dorso de ébano.
«E este gajo?», disse o cabo.
«Estamos à espera de quê?»
O oficial fitou o prisioneiro
e os olhos semicerraram-se, concentrados. Uma das mãos
deslizou-lhe para a automática, entre as pernas.
Afagou-a e trincou ligeiramente o cigarro. Inspirou uma,
duas, três vezes e soprou devagar, de lábios levemente
abertos, de modo que o fumo trepou-lhe pelas faces
graníticas, envolvendo-as como se as acariciasse.
Uma galinha do mato atravessou
sobressaltadamente a clareira onde se acantonava o
pelotão. Antes de os soldados se baixarem, rápidos, para
as metralhadoras, o cabo gritou-lhes:
«Nada de tiros.» E depois,
como que a desculpar-se: «O nosso alferes é que disse.»
Um dos furriéis comentou para
o outro:
«É sempre assim. A raiva
vem-lhe depois das razias.»
O outro assentiu e tornou a
encostar-se ao tronco da árvore sob a qual conversavam.
Olharam vagamente para os escombros da aldeia. Estava
menos calor e via-se que o Sol estava a descer depressa.
Os soldados deitaram-se no chão com a cabeça poisada nos
bornais. O rumor do rio não cessava de crescer e
convidava ao sono. Olhar para ali era como pensar no
descanso dos antigos cruzados. Um casal de coelhos
passou quase entre as pernas dos soldados, mas estes nem
se mexeram e puseram-se a dormir. Profissionais,..."
----------------------------------------------------
Os Anos da Guerra 1961 / 1974
(II Volume)
in:
"Os Anos da Guerra 1961/1974 - 2.º Volume"
Poema de
Manuel Alegre:
As Colunas Partiam de
Madrugada
 As colunas partiam de
madrugada
As colunas partiam de
madrugada
para o norte partiam para a
morte
partiam de Luanda flor pisada
levavam morte de Luanda para o
norte.
De Luanda partiam flor
pisada
colunas que levavam
Luanda para o norte para a
morte
de Luanda partiam de
madrugada.
De Luanda madrugada
para o norte
as colunas partiam
levavam de Luanda a
flor pisada
para a morte do norte
para a morte.
Partiam de Luanda
de madrugada
colunas para o
norte
levavam morte de
Luanda
para o norte da
morte flor pisada.
De Luanda
partiam as colunas
para o norte
partiam flor pisada
de Luanda
levavam para o norte
a morte da
madrugada.
Partiam as
colunas de Luanda
Levavam
para a morte
a
madrugada: flor pisada
ao norte.
(in:
O Canto e as Armas, 1967)