Os Espantosos Dançarinos do Quissengue
Artigo da
autoria de Guilherme de
Melo e imagens de
Carlos Alberto,
publicado no "Notícias" de Lourenço Marques,
cuja data desconhecemos, mas escrito durante o
período da Guerra Colonial em Moçambique.
Transcrição do
artigo:
|
|
|
(15) |
Dos enviados
especiais do "Notícias"
GUILHERME DE
MELO (Texto)
CARLOS ALBERTO
(Fotos)
|
|
OS ESPANTOSOS
DANÇARINOS DO QUISSENGUE
A par
da criação, como vimos já, da série de postos de
intervenção e aquartelamentos – que funcionam como que
um baluarte ao longo do Messalo, de modo não só a
impedir a infiltração dos bandos terroristas para sul do
grande rio que divide o distrito em duas faixas mas
igualmente para que deles partam os ataques envolventes
que, como tenaz de ferro, está apertando o inimigo cada
vez mais – estruturou-se em Cabo Delgado um curioso e
eficientíssimo sistema de aldeamentos de fronteira que
está, na verdade, provando em absoluto.
Como que
num colar autêntico, inicia-se a série de aldeamentos
novos junto ao litoral, logo um pouco acima de Mocímboa,
para, inflectindo da costa para o interior, ir subindo e
acompanhando a fronteira de modo a formar como que um
radar perfeito de detecção de novos bandos que pretendam
passar-se para o interior dessa vasta zona ao Norte do
Messalo a fim de se juntarem, em apoio, aos que ali se
encontram flagelados pela acção da tropa e das milícias
que do Messalo para cima os combatem.
Por sua
vez, ao criarem-se tais aldeamentos, visou-se também a
necessária protecção às populações que, aglomeradas
agora e possuindo os seus meios de defesa próprios, se
sentem seguras e livres da acção do inimigo que até
antes as perseguia impiedosamente, na tentativa de
angariar gente para as suas hostes, subsistência para os
seus grupos. E claro está que, sem defesa própria e
expostas à sua violência, nenhuma outra alternativa mais
lhes restava do que cederem
 mesmo
à sua vontade.
mesmo
à sua vontade.
Criados
que foram esses vários aldeamentos que vão do litoral ao
interior até ao extremo Norte, à beira do Rovuma, foi a
sua orientação e protecção entregue à Guarda Fiscal.
Duas dezenas de guardas partiram para esse efeito de
Lourenço Marques, numa comissão de um ano, finda a qual
serão por outros substituídos. E, repartidos em grupos
de três por aldeamento, ali se encontram enquadrando as
milícias de protecção constituídas por elementos da
própria população aldeada, e só raríssimos casos
reforçados por alguma tropa.
Cada
aldeamento funciona com o seu sistema de defesa e
detecção eficientemente montado, as casas todas
rectangulares, amplas e com várias divisões
sobrepondo-se à clássica palhota redonda, de divisão
única e promíscua, alinhadas ao longo de arruamentos
largos e sempre impecavelmente limpos. Ao centro
levanta-se o amplo barracão aberto dos lados, onde um
pequeno bar funciona, onde há sempre um gravador com as
respectivas fitas gravadas emitindo através de
altifalantes música portuguesa entremeada por música do
próprio folclore nativo, e onde a população normalmente
se reúne em confraternização própria de centro social
que efectivamente é. Cada aldeamento tem ainda a sua
escola, com o professor rudimentar; os seus serviços de
administração do aldeamento; formação e treino da
autodefesa, com o sistema de valas de refúgio e abrigos
preparados por toda a população, que deles se sabe
rápida e eficientemente servir, sem pânicos nem
atropelos, em caso de necessidade. Mais ainda, cada
aldeamento basta-se a si mesmo, desbravado, para isso, o
mato anexo, onde as machambas se estendem, apoiadas pela
criação de galinhas, cabras e, dentro em breve, suínos.
galinhas, cabras e, dentro em breve, suínos.
E para
que a vida ali se processe calma e ordenadamente, ainda
que o inimigo tudo faça, como se torna compreensível,
para o impedir – a vigilância é constante, dia e noite,
com milícias instaladas em torres de observação postadas
nos quatro pontos limites da aldeia e outras patrulhando
o mato, de arma em punho, a toda a volta, formando-se,
para esse efeito, turnos rigorosamente respeitados e em
que todos colaboram.
Qualquer
aproximação suspeita será, pois, prontamente assinalada
em primeiro lugar pela chamada defesa distante e só se
porventura o bando atacante conseguir furtar-se à
vigilância dessa defesa é que terão de intervir os que
se encontram nas posições fixas em pontos estratégicos
do aldeamento, de qualquer maneira coarctada em absoluto
a possibilidade ao inimigo de surgir de surpresa. E logo
que os primeiros tiros repercutam, toda a população –
novos, velhos, mulheres, crianças – calma e
ordenadamente buscarão a sua vala respectiva de acesso
ao abrigo a que pertençam.
Assim
tem sido possível verificarem-se, como já muitas vezes
aconteceu, desesperados ataques do inimigo, sempre
repelidos sem uma única baixa nas populações.
É essa
série de aldeamentos que me espera agora, à medida que
avanço cada vez mais para o Norte, aqui em Cabo Delgado.
O avião que me transporta é um dos pequeníssimos mas
rijos «Auster» confiados à Formação Aérea de
Voluntários, e o tenente Tito Xavier quem o conduz.
Noutro igual àquele em que sigo viaja o meu camarada de
jornada, com o piloto Fernando José ao comando.
E, da
série de aldeamentos, o do Olumbe o que fica mais junto
ao litoral, mesmo na costa, acima de Mocímboa da Praia,
e muito embora fosse ali que desejássemos descer
primeiramente, isso torna-se-nos impossível, alagada a
pista de aterragem pelas violentas chuvadas dos últimos
dias. Deixamos, pois, o litoral, flectindo o monomotor
cada vez mais para o interior, o Quissengue a
desenhar-se pouco a pouco recortado assim, em rectângulo
amplo, naquele oceano impressionante de floresta densa
que vamos sobrevoando.
Damos
duas ou três voltas largas e quase rasantes por sobre o
aldeamento, com a população em peso acorrendo das casas,
precipitando-se num frenesi para a pista anexa, aberta a
pá e a catana. Vejo homens correndo de arma na mão,
dispondo-se a intervalos regulares a toda a volta da
faixa de aterragem, enquanto outros, em grupos, se
internam no mato próximo. E, minutos volvidos, sobe no
mastro, lá em baixo, uma bandeira verde. A meu lado, o
tenente Tito Xavier explica-me que aquele é o sinal de
que tudo está O.K., preocupações tomadas, a defesa da
pista feita, as milícias a postos e que podemos aterrar.
O
aparelho corta a velocidade, faz-se à pista, baixa, toca
o solo, rola, e quando se detém somos positivamente
afogados por um mar impetuoso de gente que ri e aplaude,
mulheres de longas capulanas cingindo-lhes o corpo,
lenços soltos na cabeça em estilo de Madona, rapazes de
calção de caqui e camisa aberta, velhos de cabaias
brancas até aos pés e o típico cofió arrendado sobre os
cabelos encanecidos, velhas de lábio superior furado e
atravessado por uma rodela de pau-preto, multidão
exuberante, buliçosa, que ri, linguareja, expressiva,
aberta, colorida como uma girândola. Uma formação de
milícias nativas, com a sua farda verde-azeitona, forma
uma impecável guarda de honra, enquanto o velho régulo
de cabelos quase brancos e um rosto que é um hino à
simpatia, avança para nós de mão estendida, a dar-nos as
boas-vindas. E em meio de todo aquele povoléu em festa,
os três guardas ali destacados – o Ramos, o Barbosa, o
António Baptista dos Santos – recebem-nos com um sorriso
aberto e olhos brilhantes: e é como de repente os visse,
como tantas vezes os via aí em Lourenço Marques,
perguntando nos portões do cais, se «não há azar». E
sinto, de uma forma aguda, intensa, que na verdade, com
gente daquela - «nunca há azar».
Vamos da
pista de aterragem até ao centro social ainda em
acabamento, em pleno coração da aldeia, positivamente em
jeito de arraial: miúdos de bochechas luzidias
embrulham-se nas nossas pernas, mulheres correm ao nosso
lado, à nossa frente, a mão sobre a boca num som
estridente de sino novo chocalhando, e os homens falam
uns com os outros, perguntam se vamos
 ficar
muito tempo.
ficar
muito tempo.
Damos
uma volta larga por todo o aldeamento, entramos nas
casas, descemos até às machambas – e sempre à nossa
volta aquele jeito de festa, aquele bulício infantil e
bom. Mas já do terreiro sobem, cavos, arrastados, os
primeiros sons abafados dos tambores. E Juma Abdala, o
régulo, convida-nos, num perfeito português, a assistir
à festa que a sua gente quer fazer.
Estão as
cadeiras dispostas sob a copa frondosa de duas ou três
enormes mangueiras. Sentamo-nos w, a toda a volta, a
multidão forma círculo. Ninguém falta – somente os que
àquela hora formam emboscadas de vigilância para lá da
periferia do aldeamento, os que patrulham o mato a toda
a volta e os que, de arma em punho, guardam os dois
aviões pousados na pista.
Está um
grupo de homens no meio do terreiro, troncos nus, plumas
na cabeça, saiotes garridos cingidos na cintura, até à
coxa. E, sem que o pudesse até então suspeitar, vou
assistir a um dos mais espantosos e fantásticos
espectáculos de mímica que até hoje me fora dado a ver e
que, na sua genuinidade, na sua força telúrica de arte
pura – que assim os seus intérpretes no-la transmitem –
arrebataria as plateias mais exigentes de uma
ultracivilizada Europa.
É a
história de uma qualquer aldeia gentílica a que vai,
assim, através do gesto, da expressão, do salto, da
contorsão, do bailado e da mímica, desfilando, como um
filme, ante os meus olhos: o seu dia-a-dia, as gentes,
os cães lutando entre si, o bode em cio buscando a cabra
esquiva, que lhe foge; o homem que não caminha e a que é
preciso tirar a matacanha de entre os dedos; o milícia
vigiando, repelindo o grupo dos turras que detectou no
mato, combatendo-o mais pela argúcia do que pela
superioridade numérica, aniquilando-o; o retornar à paz,
à tranquilidade; a partida da casquinha para o mar, na
pescaria, o içar da vela, os remos ajudando, o leve
ondular do mar em tempo bom; a pausa ao largo, o lançar
da linha, a espera, o picar do peixe, a luta com a
presa; e de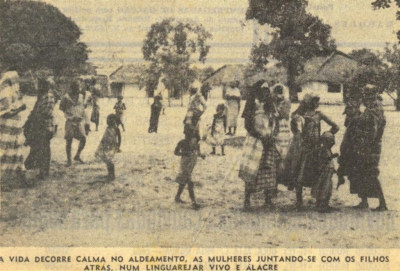 repente o levantar do vento, o erguer das primeiras
ondas, o prender da vela, o regresso a terra, o
temporal, a luta com o mar em fúria, o desesperado tirar
da água de dentro da piroga, a queda de um dos
tripulantes ao mar, a luta para o seu salvamento, a sua
retirada das águas, inerte, tombado, a casquinha já
varando terra; e o retorno lento e desolado, o
companheiro sem dar acordo, a tentativa da libertação da
água acumulada em seus pulmões, a ânsia à sua volta, o
primeiro movimento, a vitória sobre o que parecia ser a
morte; o passar do temporal, a alegria do sol que volta,
da vida que ressurge – e de braços alevantados para o
alto, o corpo num sacudir de instante a instante mais
acelerado, os tambores ganhando um som de alucinação, os
homens invocam a força que vem dos deuses e dançam e
saltam e giram, numa aleluia, num hino à Vida, à
Natureza. Tudo é agora um rodopio de vertigem, de
loucura, o ar cheira a suor, a terra dir-se-ia que
trepida sob os pés nus e vigorosos, os tambores ressoam
numa galopada, é a floresta que canta, é a terra que ri,
é o sol que se alevanta – e a um só movimento, num grito
de alegria quase feroz, a dança finda de chofre.
repente o levantar do vento, o erguer das primeiras
ondas, o prender da vela, o regresso a terra, o
temporal, a luta com o mar em fúria, o desesperado tirar
da água de dentro da piroga, a queda de um dos
tripulantes ao mar, a luta para o seu salvamento, a sua
retirada das águas, inerte, tombado, a casquinha já
varando terra; e o retorno lento e desolado, o
companheiro sem dar acordo, a tentativa da libertação da
água acumulada em seus pulmões, a ânsia à sua volta, o
primeiro movimento, a vitória sobre o que parecia ser a
morte; o passar do temporal, a alegria do sol que volta,
da vida que ressurge – e de braços alevantados para o
alto, o corpo num sacudir de instante a instante mais
acelerado, os tambores ganhando um som de alucinação, os
homens invocam a força que vem dos deuses e dançam e
saltam e giram, numa aleluia, num hino à Vida, à
Natureza. Tudo é agora um rodopio de vertigem, de
loucura, o ar cheira a suor, a terra dir-se-ia que
trepida sob os pés nus e vigorosos, os tambores ressoam
numa galopada, é a floresta que canta, é a terra que ri,
é o sol que se alevanta – e a um só movimento, num grito
de alegria quase feroz, a dança finda de chofre.
Estou
esmagado pela beleza espantosa que assim tive diante dos
meus olhos, ali, no coração de Cabo Delgado, com o
Rovuma a dois passos, aquela mensagem autêntica de Arte
viva e genuína, sem escolas, sem pretensiosismos, sem
especulações intelectuais ou pseudo-intelectuais – mas
vinda de geração para geração, sabendo a terra, a rios,
a selva, a vento largo.
E quase
sinto vontade de chorar por esta África de espanto e de
cobiça, esta África maravilhosa e pura, sensual e bela,
esta África retalhada, incompreendida, joguete de mil
interesses – e que é também a minha terra.
Almoçamos no Quissengue. A meio da tarde levantaremos
voo rumo ao aldeamento mais ao Norte da série assim
formada e que constitui o radar vivo da fronteira com o
Tanganhica. Será aí, em Nhica do Rovuma, entre a
população aldeada, os guardas fiscais, as mílicias e a
unidade militar para lá destacada, sob os alpendres de
matope endurecido como cimento e os abrigos em caso de
ataque sob os nossos pés, que iremos passar a noite – o
Rovuma diante de nós, com fogueiras ponteando a treva do
lado de lá da margem, já em território tanzaniano.
Antes,
porém, espera-nos o almoço no Quissengue – galinhas à
cafreal, loiras e fumegantes, ali mesmo assadas diante
de nós, genuínas, autênticas. E enquanto os meus
companheiros de jornada as acompanham com uma cerveja
gelada, num mútuo entendimento, sem palavras, o velho
Juma Abdala acerca-se de mim e, com um sorriso largo,
oferece-me a água leitosa e crepitante ainda de dois
cocos acabados de colher de colher de um qualquer dos
coqueiros que se alevantam a toda a volta do aldeamento.
E tem
para mim o sabor requintado, que só os grandes
restaurantes estilo «Tour d’argent» decerto imprimirão,
aquele almoço maravilhoso de galinhas à cafreal,
tostadas e picantes, regado assim a água de coco.
Mas não
estou no «Tour d’argent» nem no «Aldorf»: com o eco dos
tambores ressoando no batuque, homens de espingarda nas
mãos, de calção ou capulana beirando o solo, a montarem
guarda ao avião que me trouxe, almoço no Quissengue. E
tenho, por anfitriões admiráveis, três guardas fiscais
que viviam o seu dia-a-dia anónimo e obscuro aí pela
porta 1 ou 3 da ponte-cais – e um homem bom e simples
que, como tantos outros por este Norte imenso, disse
«não!» ao inimigo. Chama-se Juma Abdala.
GUILHERME DE MELO